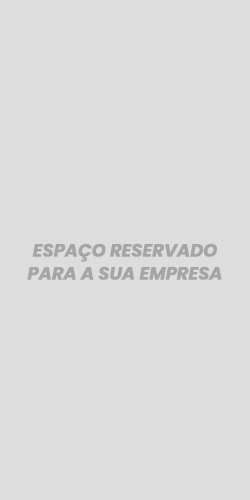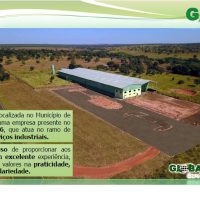O ácido acético, um componente do vinagre, foi usado por pesquisadores da Unesp e da UFSCar para fracionar a chamada lignina kraft. Método permite obter nanopartículas com diferentes propriedades, inclusive proteção contra raios UV
Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) usaram um solvente verde para promover o fracionamento da chamada “lignina kraft”, resíduo abundante da indústria brasileira de papel e celulose: o ácido acético – principal componente do vinagre. Trata-se de uma opção renovável e biodegradável, o que confere uma abordagem sustentável ao processo.
Como explica Jessica Rodrigues, engenheira química, doutora em ciência dos materiais pela UFSCar e atualmente pós-doutoranda na Unesp, campus de Sorocaba, a lignina é uma molécula altamente complexa e heterogênea, o que dificulta seu uso em diversas aplicações. Daí a ideia de fracioná-la, separando-a em porções específicas.
“Existem vários tipos de lignina: a kraft, a alcalina, a organosolv, a sulfonada, entre outras. Esses tipos variam conforme o tratamento da matéria-prima, já que os nomes se referem ao processo de extração da lignina. Quando o eucalipto é tratado pelo processo kraft para o isolamento da celulose, a lignina kraft é gerada como subproduto. Nós a escolhemos porque é o resíduo obtido em maior quantidade na indústria de papel no Brasil. Sabemos que suas estruturas fenólicas são aplicáveis em vários campos, desde materiais avançados até nanotecnologia. Assim, pegamos o subproduto da indústria e adicionamos valor a ele.”
A pesquisadora explica que a ideia partiu do fato de o ácido acético já ser utilizado para extração de lignina organosolv. “Então, pensamos: por que não usar o ácido acético para fracionar a lignina kraft? Ele é de baixo custo, se comparado ao metanol, ao acetato de etila e a outros solventes utilizados para esse fim, além de poder ser produzido a partir de resíduos. Sem contar que é seguro e, em baixa concentração, pode ser encontrado em produtos comerciais.”
A patente requerida ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob o número BR 10 2024 0201817, chama-se “Processo verde para obtenção de frações específicas de lignina kraft e aplicações em nanotecnologia” e envolve mais quatro cientistas, além de Rodrigues: Leonardo Fraceto, coordenador de Inovação do Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima (CBioClima), Vagner Botaro, Amanda de Sousa Martinez de Freitas e Marystela Ferreira.
O trabalho é apoiado pela FAPESP por meio de cinco projetos (23/06505-9, 22/03399-0, 17/21004-5, 23/00335-4 e 21/10639-5).
Rodrigues salienta que existem várias maneiras de fracionar a lignina kraft, como a precipitação com ácido sulfúrico, reduzindo o pH, ou ainda por ultrafiltração, separando por tamanho. Também é possível fracioná-la usando fracionamento sequencial em solventes orgânicos. “Conseguimos fazer o fracionamento com um único solvente, variando apenas as porcentagens de solvente.”
Proteção UV
O grupo percebeu que, ao utilizar 30%, 40% e 50% de ácido acético, obteve frações mais homogêneas de lignina e com diferentes propriedades. “A lignina fracionada com 30% de ácido acético é rica em grupos hidroxila [OH] fenólicos, enquanto a fracionada com 50% desse solvente é rica em OH alifático.” Esses grupos são indicadores usados na caracterização da lignina, que não é uma molécula bem definida.
Segundo Rodrigues, uma das propriedades do OH fenólico é a capacidade de proteção UV. “É possível produzir protetores UV a partir dessa lignina rica em OH fenólico, que foi o que acabamos fazendo aqui: obtivemos uma nanopartícula a partir de algumas frações dessa lignina e vimos que essa nanopartícula forma uma cápsula em torno do ativo que se quer proteger. E a eficiência de encapsulamento foi muito boa.”
Ela explica que, quanto maior porcentagem de OH alifático, menor é o tamanho da partícula. E quanto maior a porcentagem de OH fenólico, maior é o tamanho da nanopartícula e maior é a proteção UV.
Os pesquisadores estão estudando também a biodegradação das nanopartículas em solo e em água com o objetivo de reduzir, no ambiente, a emissão de microplásticos utilizados pela agricultura. Fertilizantes, herbicidas e outros produtos agrícolas que possuem componentes considerados microplásticos, ao serem aplicados em larga escala, acabam gerando impactos pelo acúmulo desse material no solo e na água.
O grupo está interessado no que chama de correlação estrutura-desempenho. “Esperamos, em algum momento, poder especificar as áreas de aplicação dessas nanopartículas quando têm maior porcentagem de OH fenólico e quando têm maior teor de OH alifático. Pensamos em termos de biorrefinaria: conseguir mostrar que cada fração da lignina é interessante para uma área de aplicação.”
Nesse sentido, os pesquisadores produziram vários artigos. O primeiro, sobre a própria patente, já foi submetido a um periódico de impacto internacional. “Em um segundo artigo, usamos as frações de lignina como estabilizante de outra nanopartícula já existente, produzida com polímeros biodegradáveis sintéticos. E testamos essas nanopartículas no controle de plantas daninhas, picão-preto e caruru. E, no último, testamos sua eficiência na liberação de fertilizante NPK no solo. Ou seja: desenvolvemos pesquisas em várias vertentes para fazer a prova de conceito da relação estrutura-desempenho.”
Biodegradação
Segundo Rodrigues, pela diversidade de aplicações, o grupo pensa em adicionar possíveis produtos derivados das frações de lignina à patente de processo já requerida. E, naturalmente, tentar fazer parcerias com a indústria. “Já estabilizamos as nanopartículas e, agora, queremos observar como elas se comportam nos testes de biodegradação, verificando se liberam microplásticos no processo.”
O grupo quer relacionar estabilidade e biodegradação, desenvolvendo protocolos para comprovar a biodegradabilidade. “Devido ao tamanho em nanoescala das partículas, a comprovação é desafiadora. Estamos estudando os protocolos já existentes e desenvolvendo os nossos.”
Informações: Agência FAPESP.





/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2022/l/T/PD9c44QD29IAhIGg1O1g/horta-de-manguinhos-rio-de-janeiro.jpeg)